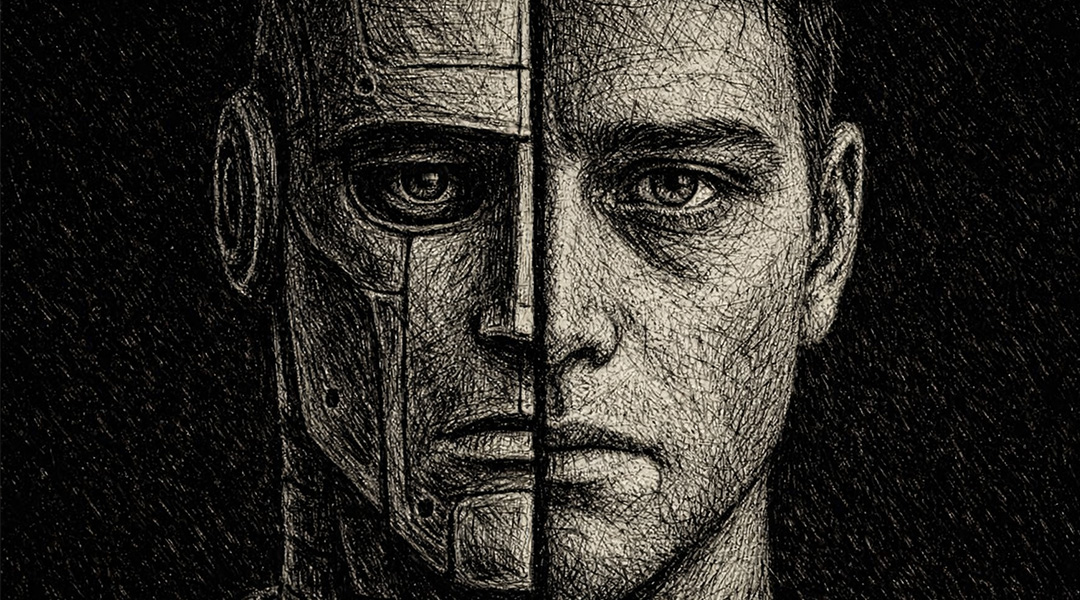Literalmente, todos os dias, é dito à inteligência artificial, quase exatamente com estas palavras: “seja mais humana!” O que me leva a refletir: se realmente valorizamos o humano, por que não o exercemos nós mesmos, já que nos é intrínseco, em vez de buscar delegar para a máquina? De onde surgiu a necessidade de que a máquina simulasse personalidades? Não tenho respostas para essas questões, mas vou descrever aqui o que penso a respeito.
Humanização da máquina
Os aplicativos de IA com base em processamento e reprodução de linguagem natural (LLMs — Modelos de Linguagem Grande, traduzido do inglês) surgiram para que pudéssemos dialogar com a máquina com baixa fricção informacional. Afinal, é infinitamente mais fácil dizer para um robô “escreva um texto sobre ‘este tema’” do que programar um software para executar a mesma tarefa. Logo começamos a interagir de forma cotidiana com esses sistemas e notamos que eles poderiam não só seguir objetivos de maneira robótica, mas também fingir que, nos materiais produzidos, havia traços de organicidade, vestígios de humanidade. Então, o texto maquinal, com sentenças rebuscadas, pontuação calculada matematicamente e gramática rigorosa, tornou-se pouco demais e até um tanto ridículo — afinal, chegamos a nos irritar com a IA quando ela se restringe à sua essência. Queremos o máximo de humanidade possível em cada parágrafo.
Atualmente, os modelos de linguagem já são projetados e nascem com possibilidades infinitas de personificação. “Dê ao seu robô a personalidade que quiser, transforme-o no amigo ou colega de trabalho que você sempre quis, faça-o falar por você imitando suas características” — gritam-nos as bigtechs a cada nova atualização. Para confirmar esta observação, é só acessar brevemente os system cards divulgados por Google, OpenAI etc., sobre seus modelos mais recentes.
O motivo de tudo isso, no fundo, é banal e desconfortável: ser humano é mais difícil do que parece. Não no sentido biológico, mas no sentido social — no sentido de sustentar empatia, escuta, paciência e, ainda assim, permanecer inteiro. Em algum momento, “humanidade” deixou de significar apenas o que somos, com nossa mistura natural de afeto e indiferença, e passou a significar um dever: agir como se fôssemos capazes de nos importar com muitos, o tempo todo, com a delicadeza e atenção que antes eram reservadas a vínculos próximos. E quando “ser humano” vira um pré-requisito moral, exercer essa humanidade vira um ato quase sacrificial: uma performance permanente de consideração que exige energia, tempo e autocontrole.
É aqui que entra a tentação de uma máquina “mais humana”. Não porque desejamos, genuinamente, ampliar a humanidade no mundo, mas porque desejamos terceirizar o seu peso. Queremos algo que suporte a volatilidade do outro sem se cansar, que responda com ternura sem ter um dia ruim, que acolha sem cobrar reciprocidade, que seja paciente sem ressentimento. E, sobretudo, queremos poupar a nós mesmos do atrito que a convivência real produz: o conflito, a frustração, a necessidade de negociar limites. Pedimos que a inteligência artificial seja humana porque, ao delegar para ela o trabalho emocional, preservamos o direito de permanecer no modo mais primitivo — e mais honesto — do nosso funcionamento: nos importamos de verdade com poucos e, para o resto, preferimos uma mera representação.
Robotização do humano
A outra parte do nosso dilema está na robotização do humano. Ela é mais fácil de perceber porque é visível: basta observar o tipo de sujeito que a sociedade recompensa. Ser “funcional” virou virtude máxima; ser lento, ambíguo, distraído ou emocionalmente indisponível virou falha de caráter. O ideal contemporâneo é um indivíduo que produz em escala, que otimiza a própria rotina como se fosse uma empresa, que transforma capacidade de entrega em métrica. Para isso, ele precisa padronizar o que faz e, mais do que isso, padronizar a si mesmo: organizar o corpo, o sono, o foco, a fala, a presença, como se cada traço humano fosse um ruído a ser eliminado.
Só que ninguém produz no vácuo. Trabalho é vida em sociedade, e isso é lidar com conflitos afetivos e imprevisibilidade. No entanto, para não “atrapalhar a performance”, a convivência também é pressionada a se tornar eficiente: relações rápidas, conversas utilitárias, disponibilidade sob demanda, empatia comprimida em fórmulas. Ou seja, a pessoa se torna competente exatamente naquilo que a máquina é projetada para fazer: executar, responder, entregar. E quanto mais ela se aproxima desse modelo — frio, mecânico, automático — maior tende a ser seu valor social.
É por isso que o pedido de “seja mais humana” soa menos como um ajuste técnico e mais como uma súplica. Quanto mais robotizamos o humano para caber no ritmo e na lógica do mundo moderno, mais sentimos falta daquilo que a robotização corrói: tempo, presença, paciência. Então fazemos o movimento inverso com a máquina: exigimos dela o calor que já não conseguimos sustentar — nem nos outros, nem em nós mesmos.
Isso me lembra a sociedade de Solária, no livro O Sol Desvelado, de Asimov: distanciamento social radical, relações pessoais episódicas via projeção holográfica, o homem novamente dentro do útero; cada cômodo da casa é uma extensão do próprio psiquismo. Enquanto os robôs são encarregados de manter a sociedade funcionando.
Claro que a ficção nos apresenta um cenário extremo. No entanto, parece-me cada vez mais que criamos ideias de laços sociais muito maiores do que podemos suportar.
Hoje, tendo à disposição tecnologia que nos permite transferir essa responsabilidade — que sentimos dar tanto trabalho quanto aquilo que fazemos por ofício —, da mesma forma que no caso deste último, esperamos que a máquina faça por nós. E assim podemos manter viva a sociedade que construímos a partir da nossa ressignificação de humanidade. Com robôs capazes de dar continuidade à representação teatral da peça que criamos para nós mesmos encenar.